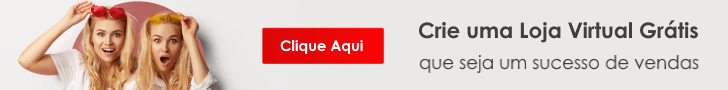No início do século XVI, o litoral paulista já tinha sido visitado por navegadores portugueses e espanhóis, mas somente em 1532 se deu a fundação da primeira povoação de origem europeia, São Vicente, na atualBaixada Santista, por Martim Afonso de Sousa. Com a criação da Vila de São Vicente, instalou-se o primeiroparlamento nas Américas: a Câmara da Vila de São Vicente. Realizaram-se também as primeiras eleições em continente americano.
A procura de metais preciosos levou os portugueses a ultrapassarem a Serra do Mar pelo antigo caminho indígena do Peabiru. Em 1554, no planalto existente após a Serra do Mar, foi fundada a vila de São Paulo de Piratininga pelos jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega.
Até o fim do século XVI, os portugueses fundaram outras vilas no entorno do planalto, como Santana de Parnaíba, garantindo, assim, a segurança e a subsistência da vila de São Paulo.
O nome São Vicente foi dado por Américo Vespúcio, em 22 de janeiro de 1502, em viagem que objetivava mapear o litoral do Brasil. Quando passou pela região, encontrou duas ilhas, onde hoje estão as cidades de Santos e São Vicente na Ilha de São Vicente e a cidade de Guarujá na ilha de Santo Amaro e o estuário, que achou ser um rio. Era dia de São Vicente, assim tendo sido batizada a localidade.
As primeiras povoações de São Vicente também não foram oficiais. Ali foi abandonado o Bacharel de Cananeia. Segundo muitos historiadores, teria sido ele o português Cosme Fernandes Pessoa, verdadeiro fundador de São Vicente, a partir de onde de fato governava e controlava o comércio da região. Segundo documento encontrado pelo português Jaime Cortesão, oBacharel já moraria no Brasil antes até da chegada de Cabral: O degredado é citado num documento datado de 24 de Abril de 1499, descoberto por Cortesão, que se reporta a uma viagem não-oficial de Bartolomeu Dias ao Brasil. Outro documento, de 1526, descreve o povoado de São Vicente, informando que teria uma dúzia de casas, sendo apenas uma de pedra, com umatorre para defesa.
Cosme Fernandes Pessoa foi acusado junto ao Rei de Portugal, por dois amigos que em troca receberam doações em terras, de manter relações com espanhóis que viviam mais ao sul, com perigo para o domínio português na região. Martim Afonso de Sousa partiu para o Brasil com diversos objetivos. O primeiro deles era o de estabelecer oficialmente a colonização do Brasil, confirmando o poder da coroa. Como consequência, subtraiu o poder das mãos de Cosme Fernandes Pessoa.
Avisado, o Bacharel incendiou o local e retirou-se com seu pessoal para Cananeia.
Martim Afonso de Sousa fundou oficialmente o povoado de São Vicente no local em que se encontravam as ruínas anteriores, na data de 22 de janeiro de1532. Em 1536 o Bacharel de Cananeia (ou Bacharel Cosme) atacou, saqueou e queimou o povoado, enforcando o antigo amigo e traidor Henrique Montes. Esse é o último registro histórico sobre o Bacharel de Cananeia. Martim Afonso de Sousa distribuiu sesmarias e efetuou diversas edificações, deixando São Vicente povoada e organizada.
O Porto de São Vicente foi alvo do primeiro grande desastre ecológico do Brasil: a terra à beira mar foi limpa e cultivada. Sendo a terra arenosa e tendo o solo perdido sua camada protetora, as chuvas levaram a areia para o mar assoreando o porto de São Vicente. Martim Afonso de Sousa partira de São Vicente em22 de maio de 1533, deixando a administração nas mãos de sua esposa Dona Ana Pimentel (primeira donatária no Brasil). Por sua vez, D. Ana Pimentel nomeou Brás Cubas como Capitão-Mor e ouvidor da Capitania de São Vicente, que, devido ao assoreamento do Porto, única via de comunicação com aMetrópole portuguesa e o ataque do Bacharel de Cananeia a São Vicente, decidiu montar novo porto na região Enguaguaçu, local mais protegido, para onde foi transferido o porto em 1536, estabelecendo ali um povoado. O simples fato do nome do local ser indígena, e não português, evidencia que a iniciativa não foi oficial. Brás Cubas atraiu para ali colonos de áreas próximas e fundou um povoado, que futuramente receberia o nome de Santos, e promoveu melhorias, como a construção da primeira Santa Casa do Brasil. São Vicente entra assim em declínio.
Embora haja notícias da existência de mulheres portuguesas na frota de Martim Afonso de Sousa, não foram ainda encontrados registros escritos. O primeiro registro escrito relativo a mulheres portuguesas vindas para o Brasil data de 1550. Assim as mães eram geralmente mamelucas ou índias.
A fundação de São Vicente no litoral paulista iniciou o processo de colonização do Brasil como política sistemática do governo português, motivada pela presença de estrangeiros que ameaçavam a posse da terra. Evidentemente, antes disso já havia ali um núcleo português que, à semelhança de outros das regiões litorâneas, fora constituído por náufragos e datava, provavelmente, do início do século XVI. Foi, no entanto, durante a estada de Martim Afonso de Sousa que se fundou, em 20 de janeiro de 1532, a vila de São Vicente e com ela se instalou o primeiro marco efetivo da colonização brasileira.
O nome de São Vicente se estendeu à capitania hereditária doada ao mesmo Martim Afonso de Sousa pelo Rei de Portugal em 1534. Assim, o primeiro nome do atual estado de São Paulo foi capitania de São Vicente.
A despeito das inumeráveis dificuldades para transpor a serra do Mar, os campos do planalto logo atraíram os povoadores, o que tornou São Paulo uma exceção no tipo de colonização dos portugueses dos primeiros tempos, que se fixavam sobretudo no litoral. Assim, em 1553, povoadores portugueses fundaram a Vila de Santo André da Borda do Campo. No ano seguinte, os padres da Companhia de Jesus fundaram, em uma colina de Piratininga, um colégio para os índios, berço da Vila de São Paulo. Em 1560, a Vila de Santo André foi extinta e seus moradores foram transferidos para São Paulo de Piratininga.
A faixa litorânea, estreita pela presença da serra, não apresentava as condições necessárias para o desenvolvimento da grande lavoura. Por sua vez, o planalto deparava com o sério obstáculo do Caminho do Mar, que, ao invés de ligar, isolava a região de Piratininga, negando-lhe o acesso ao oceano e, portanto, a facilidade para o transporte. Em consequência, a capitania ficou relegada a um plano econômico inferior, impedida de cultivar com êxito o principal produto agrícola do Brasil colonial, a cana-de-açúcar, e de concorrer com a principal zona açucareira da época, representada por Pernambuco e Bahia.
Estabeleceu-se em Piratininga uma policultura de subsistência, baseada no trabalho forçado do índio. Os inventários dos primeiros paulistas acusavam pequena quantidade de importações e completa ausência de luxo. O isolamento criou no planalto uma sociedade peculiar. Chegar a São Paulo requeria fibra especial na luta contra as dificuldades do acesso à serra, os ataques dos índios, a fome, as doenças, o que levaria a imigração europeia a um rigoroso processo seletivo. Tais condições de vida determinariam a formação de uma sociedade em moldes mais democráticos que os daquela que se estabelecera mais ao norte da colônia.
Concorreu em boa parte para tanto a proliferação de mamelucos oriundos do inevitável e intenso cruzamento com as índias da terra, pertencentes às tribos tupis que dominavam o litoral brasileiro. Em São Paulo, especialmente, o hibridismo luso-tupi na sua feição étnico-cultural não se atenuaria tão rapidamente como ocorreu em outras regiões em que o fluxo de negros e o contato mais fácil com a metrópole veio diluí-lo. Mais do que em qualquer outro lugar, o português saberia, à sombra de uma excepcional capacidade de adaptação, integrar certos traços culturais dos tupis que lhe permitiriam sobreviver — e mais, tirar proveito do sertão hostil.
Dificuldades econômicas, tino sertanista, localização geográfica (São Paulo era um importante centro de circulação fluvial e terrestre), espírito de aventura, seriam poderosos impulsos na arrancada para o sertão. Desde os primeiros tempos da colonização eram constantes as arremetidas, num bandeirismo defensivo que visava a garantir a expansão paulista do século XVII. Este seria o grande século das bandeiras, aquele em que se iniciaria o bandeirismo ofensivo propriamente dito, cujo propósito era em grande parte o lucro imediato proporcionado pela caça ao índio. Da vila de São Paulo partiram as bandeiras de apresamento chefiadas por Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, André Fernandes, entre outros.
As condições peculiares de vida no planalto permitiram que os paulistas, durante os dois primeiros séculos, desfrutassem de considerável autonomia em setores como defesa, relações com os índios, administração eclesiástica, obras públicas e serviços municipais, controle de preços e mercadorias. As câmaras municipais, compostas por "homens bons" da terra, raramente se continham dentro de suas legítimas atribuições; em São Paulo, especialmente, sua independência quase fez esquecer o governo lusitano.